BIOLOGIA DO CÂNCER
O câncer é uma doença genética porque as alterações ocorrem dentro de genes específicos, mas na maioria dos casos não se trata de doença herdada.
Em uma doença hereditária, o defeito genético está presente nos cromossomos de um dos pais (ou em ambos) e é transmitido para o zigoto. Por outro lado, as alterações genéticas que causam a maioria dos canceres originam no DNA das células somáticas durante a vida da pessoa afetada. Por causa dessas alterações genéticas, as células cancerosas se proliferam incontrolavelmente, produzindo tumores malignos que invadem os tecidos saudáveis próximos às células tumorais. Durante o tempo em que o tumor permanece localizado, a doença pode ser tratada com drogas específicas ou curada por remoção cirúrgica do tumor. Entretanto, os tumores malignos tendem a se disseminarem, cujo processo é conhecido por metástase, onde grupos de células cancerosas “escapam” da massa tumoral e atingem a circulação sangüínea ou linfática, e se espalham para outros tecidos e órgãos, criando tumores secundários. A remoção cirúrgica desses tumores metastáticos é extremamente difícil, muitas vezes sem sucesso.
Devido ao seu impacto na saúde e a esperança de que se pode desenvolver meios para a cura dos canceres, muitas pesquisas tem sido desenvolvidas ao longo de décadas. Embora estes estudos tenham resultado em marcante conhecimento das bases celulares e moleculares do câncer, o impacto dos seus benefícios ainda é pequeno, quer na prevenção ou no aumento da sobrevida da maioria dos canceres. Para se ter uma idéia desse processo , foram realizadas pesquisas sobre os principais casos de canceres e suas relações com óbitos, durante todo o ano de 1997 nos Estados Unidos (tabela). Por meio desses dados é possível observar que o tipo mais prevalente de câncer (próstata) é um dos que menos causa a morte, onde a relação caso/óbito é de 7,73. Os canceres mais graves cuja relação caso/óbito é próxima de 1,0 são os que acometem o pâncreas, o cérebro e os pulmões.
Tabela 1: Relação entre casos de canceres diagnosticados em 1997 nos Estados Unidos com o número de óbitos no mesmo período.
Tipo de Câncer | Casos Diagnosticados | Óbitos | Relação Caso/Óbito |
| Próstata | 325.000 | 42.000 | 7,73 |
| Mama | 180.000 | 43.000 | 4,18 |
| Pulmão | 165.000 | 160.000 | 1,03 |
| Cólon | 90.000 | 43.000 | 2,09 |
| Linfoma | 60.000 | 20.000 | 3,00 |
| Bexiga | 52.000 | 12.000 | 4,33 |
| Melanoma | 48.000 | 8.000 | 6,00 |
| Reto | 45.000 | 10.000 | 4,50 |
| Rim | 40.000 | 20.000 | 2,00 |
| Leucemia | 40.000 | 35.000 | 1,14 |
| Pâncreas | 40.000 | 40.000 | 1,00 |
| Ovário | 38.000 | 25.000 | 1,52 |
| Cérebro | 28.000 | 27.000 | 1,03 |
Os tratamentos atuais semelhantes à quimioterapia e radiação, necessitam de maior especificidade para matar as células cancerosas sem lesar simultaneamente as células normais. Muitos centros de pesquisas estão atualmente empenhados na busca de terapia mais efetiva contra as células cancerosas e menos agressiva às células normais.
ALMEIDA, L. M.; COUTINHO, E. S.
F. Prevalência de consumo de bebidas alcoólicas e de alcoolismo em uma região
metropolitana do Brasil. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 27, n. 1, p.
23-29, 1993.
AMORIM, E. F. Ser-no-mundo
portador de câncer e de ostomia intestinal: contribuição para assistência de
enfermagem. 1996. 105 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - Escola de
Enfermagem Ana Nery, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
AUSTOKER, J. Cancer prevention in
primary care: diet and cancer. BMJ, London, v. 308, p. 1610-1614, 1994.
BAHIA. Secretaria da Saúde.
Departamento de Vigilância da Saúde. Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador.
Manual de normas e procedimentos técnicos para a vigilância da saúde do
trabalhador. Salvador, 1996.
BEKKERS, M. J. T. M et al.
Psychosocial adaptation to stoma surgery: a review. Journal of Behavioral
Medicine, New York, v. 18, n. 1, July 1995. BELCHER, A. E. Cancer nursing. St.
Louis: Mosby-Year Book, 1992. (Mosby's Clinical Nursing Series).
BEVERLEY, P. Imunologia do
câncer. In: FRANKS, L. M.; TEICH, N. Introdução à biologia molecular do câncer.
São Paulo: Roca, 1990. p. 311-334.
BLACK, P. K. História e evolução
dos estomas. Nursing, Portugal, n. 86, maio 1995.
BODMER, W. F. Hereditariedade e
suscetibilidade ao câncer. In: FRANKS, L.
M.; TEICH, N. Introdução à
biologia molecular do câncer. São Paulo: Roca, 1990. p. 89-105.
BONASSA, E. M. A. Protocolos
quimioterápicos mais comuns. In: ____.
Enfermagem em terapêutica
oncológica. 2. ed. Rio de Janeiro: Ateneu, 2000. p. 457-503.
BRASIL. Ministério da Saúde.
Programa Nacional de Controle dos Problemas Relacionados com o Consumo de
Álcool. PRONAL, 1987.
BRASIL. Ministério da Saúde.
Instituto Nacional de Câncer. Controle de sintomas e cuidados paliativos de
criança: condutas do INCA. Revista Brasileira de Cancerologia, Rio de Janeiro,
v. 46, n. 2, p. 137-144, abr./jun. 2000.
BRASIL. Ministério da Saúde.
Instituto Nacional de Câncer. Controle do câncer. 3.ed.rev. Rio de Janeiro,
1999. 304 p.
BRASIL. Ministério da Saúde.
Instituto Nacional de Câncer. Falando sobre tabagismo. 2.ed. Rio de Janeiro,
1996. 71 p.
BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer. Relatório de atividades 1999. Rio de Janeiro, 2000. 82 p.
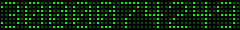
Nenhum comentário:
Postar um comentário